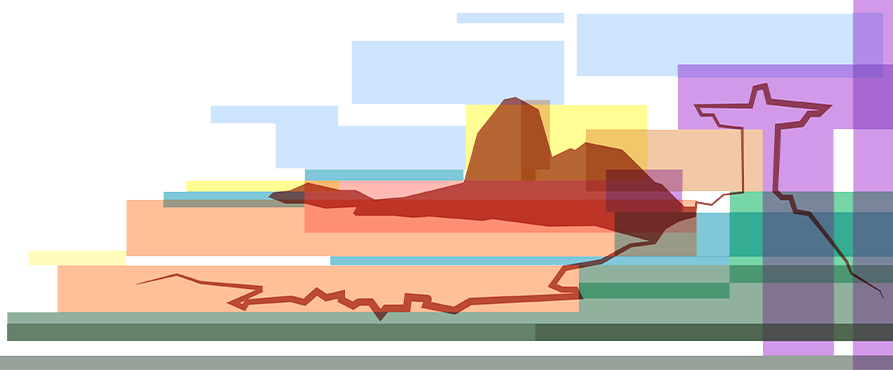“As armas e os barões assinalados,/ Que da ocidental praia lusitana,/ Por mares nunca de antes navegados,/ Passaram ainda além da Taprobana…”. Com esses versos, Luís de Camões inicia o épico maior da língua portuguesa, Os Lusíadas. Narrando a epopeia de Vasco da Gama em busca da rota para as Índias, Camões dá a Portugal no séc. XVI um mito nacional, importante, sobretudo, naquele tempo das grandes navegações. Dois séculos depois, um brasileiro, olhando para os versos camonianos, quis dar também à nossa terra um poema épico e um mito nacional. Trata-se do Frei José de Santa Rita Durão e sua obra Caramuru.
Nascido em 1722, em Minas Gerais, foi em Portugal que esse mineiro professou votos na ordem dos agostinianos. Doutor em teologia pela Universidade de Coimbra, o Fr. Santa Rita Durão, ex-aluno dos jesuítas do Colégio do Rio de Janeiro, não foi poupado pela perseguição do Marquês de Pombal. Passando duas décadas em Roma, onde foi bibliotecário, retornou para Lisboa após a queda do poderoso ministro e a subida ao trono de D. Maria I, encontrando agora ambiente propício para a publicação de sua grande obra, Caramuru, que tem por subtítulo Poema épico do descobrimento da Bahia.
Colocado pelos estudiosos na escola literária conhecida como arcadismo, a obra do nosso frade agostiniano, de fato, traz as características próprias dessa escola, que procurava exaltar a natureza e o bucólico, buscando nos antigos gregos (daí arcadismo, por ser a Arcádia uma região campestre da Grécia antiga) sua grande referência. Na introdução que faz ao Caramuru, Frei Santa Rita durão diz que sua motivação para o escrever foi “o amor da pátria.” E se Camões foi buscar nas peripécias do português que desbravou as Índias o grande referencial lusitano, onde foi buscar o nosso frade o seu? O poema de Santa Rita Durão conta a história de Diogo Álvares Correia, que nas primeiras décadas do séc. XVI naufragou na região da Bahia e fez os primeiros contatos com os povos indígenas de nossa costa. Surpreendidos pelo uso que Diogo fará certa vez de uma arma de fogo, os nativos o apelidarão de “filho do trovão”, em sua língua, “caramuru.” Será com linguagem camoniana – percebe-se claramente a semelhança entre o canto I de Caramuru e o já citado canto I de Os Lusíadas – que enaltecerá o herói da epopeia brasileira: “De um varão em mil casos agitado,/ que as praias discorrendo do ocidente,/ descobriu o recôncavo afamado/ da capital brasílica potente:/ do filho do trovão denominado,/ que o peito domar soube à fera gente;/ o valor cantarei na adversa sorte,/ pois só conheço herói quem nela é forte.”
A história de Diogo Álvares, porém, ganha novos contornos quando surge a doce figura da índia Paraguaçu, que se tornará sua amada. Descrita por Santa Rita Durão como tendo “o nariz natural, boca mui breve,/ olhos de bela luz, testa espaçosa”, Paraguaçu é o arquétipo da virtude natural. À parte a imaginação do nosso frade, necessária para a composição de sua obra, a história de Caramuru e Paraguaçu é das mais interessantes de nosso período colonial, apesar da escassez de fontes. Mas sabe-se que o casal chegou até a França, onde Paraguaçu foi batizada em 15 de julho de 1530. Seu registro de batismo, ainda existente na catedral de Saint-Malo, é o primeiro documento que se conheça de um brasileiro. Teve por madrinha a própria rainha de França, Catarina de Médicis e, para homenagear a madrinha, bem como Santa Catarina, recebeu na pia batismal o nome de Catarina Paraguaçu. Assim imagina Santa Rita Durão a cena de tão célebre batismo: “À roda o real clero e grão jerarca/ Forma em meio à capela a augusta linha;/ Entre os pares seguia o bom monarca,/ E ao lado da neófita a rainha./ Vê-se cópia de lumes nada parca,/ E a turba imensa que das guardas vinha;/ E dando o nome a augusta à nobre dama,/ Põe-lhe o seu próprio e Catarina a chama.”
Teria também naquele dia contraído matrimônio com Diogo Álvares, o que lhes valeu, então, o título de “a primeira família brasileira”. Paraguaçu passou para nossa história como “a mãe do Brasil”, bem como a primeira brasileira a ser alfabetizada. Retornando para a Bahia, Diogo e Catarina – ou, se preferirem, Caramuru e Paraguaçu – teriam tido uma família numerosa. Catarina Paraguaçu, falecida em 1583 aos 80 anos, está sepultada na Igreja de N. Sra. da Graça, em Salvador, templo construído a seu pedido após achar uma imagem da Virgem Santíssima salva de um naufrágio, conforme a própria Virgem lhe indicou em sonho. Deixou todos os seus bens para o Mosteiro de São Bento da Bahia, conforme se lê em seu testamento ainda hoje guardado no arquivo dos monges de Salvador.
Bem se vê como foi feliz a escolha do Frei José de Santa Rita Durão para o seu poema. Foi buscar na primeira família brasileira as nossas origens. Sua obra é ainda de grande valor pela descrição das belezas e riquezas naturais do Brasil, como quando coloca Caramuru a explicar ao rei de França sobre a cana-de-açúcar, descrita como o “mais rico e importante vegetável”, ou a poética forma como falará da mandioca, tão cara à culinária dos nativos: “É sustento comum, raiz prezada,/ Donde se extrai com arte útil farinha,/ Que saudável ao corpo, ao gosto agrada,/ E por delícia dos Brasis se tinha./ Depois que em bolandeiras foi ralada,/ No tapiti se espreme e se convinha,/ Fazem a puba então e a tapioca,/ Que é todo o mimo e flor da mandioca.”
Não é à toa, portanto, que o célebre Sílvio Romero, um de nossos primeiros críticos literários, dará à obra de Santa Rita Durão o título de “o poema mais brasileiro que possuímos.” O nosso nobre frade, que bem pode ser chamado “o Camões brasileiro”, morreu em 1784. É patrono da cadeira 11 da Academia Mineira de Letras, e patrono da cadeira 9 dos sócios correspondentes da Academia Brasileira de Letras.